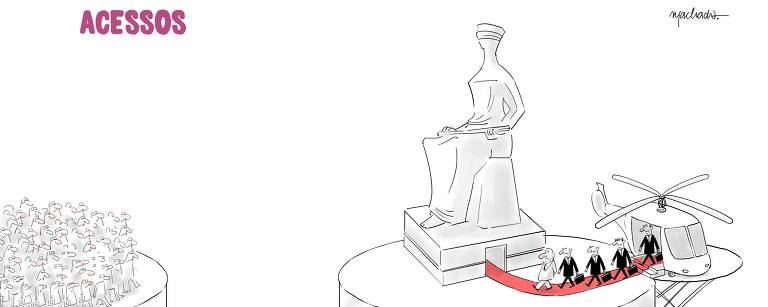No carnaval, um enredo que se apoiava na famosa história do monstro Frankenstein arrebata o primeiro lugar no desfile das escolas de samba. Em segundo lugar terminou uma escola de samba que trouxe como destaque em seu enredo outro monstro famoso do século XIX, o vampiro Drácula, transmutado em vampiro neoliberalista. O Oscar concede o prêmio de melhor filme para A forma da água, do diretor Guilherme Del Toro, onde uma criatura monstruosa aprisionada em terras sul-americanas é submetido à tortura da curiosidade científica, das disputas e espionagens políticas e do preconceito contra o diferente, o monstruoso. Definitivamente os monstros parecem estar na crista da onda em nosso tempo. O monstruoso parece ser a própria imagem de nosso tempo. Há algo de muito significativo nessa escolha da monstruosidade para metonimizar a nossa época, para resumí-la e dar-lhe uma imagem de conjunto. Os monstros que povoaram o imaginário, as cabeças de um século XIX impactado pelas brutais mudanças sociais, tecnológicas, científicas e morais, trazidas pelo capitalismo, voltam a assombrar o nosso tempo. O que isso tem a nos dizer? Que monstros andam soltos em nossas ruas, em nossas vidas, em nossas sociedades, em nossas formações sociais?
Afinal, o que define o monstruoso? Qual o elemento que define algo ou alguém como monstruoso? O monstro padece de um problema de forma, ele é por definição deformado, ele possui uma forma estranha, diferente, bizarra, distinta daquela que uma dada sociedade e uma dada cultura consideram normal. O monstruoso é uma ruptura com a normalidade da forma, é a irrupção de uma forma estranha, estrangeira, rara. A monstruosidade remete ao disforme, ao que parece violar as normas, os códigos, as regras, os preceitos, as injunções que definem dadas formas como aquelas que seriam desejáveis, esperadas, canônicas, esteticamente perfeitas. Embora o conceito de monstro tenha sido usado inicialmente para nomear as formas corporais, as formas materiais, as formas carnais que se desviavam do que se considerava como sendo a normalidade de um dado ser, do que seria sua forma normal, ele passou a ser usado também, notadamente a partir do século XIX, para nomear dados comportamentos, atitudes, dadas ações e reações humanas. Para nomear indivíduos considerados excessivamente maus, perversos, cruéis, desumanos, atrozes. O monstruoso seria um problema de caráter tanto quanto de caractere ou de característica.
A palavra monstro vem da palavra latina monstrum, que remetia a ideia de um ser portentoso, um ser grandioso e diferente, que seria um presságio, um aviso de algo extraordinário. Derivando da raiz latina monere, o aparecimento do monstruoso era um sinal, uma mensagem, uma advertência de que algo bom ou ruim iria ocorrer. Entre os romanos antigos o monstro tinha um sentido religioso, ele era um sinal dos deuses, um signo dos desígnios do divino, devendo ser decifrado. Os monstros faziam parte do mundo mitológico e fantástico, eram potências alojadas entre o divino e o terreno, entre a realidade e a fantasia, seres fora do comum, descomunais. Na modernidade esse sentido sagrado do monstro se perdeu. Ele passou a se referir a um erro da natureza, um ser contrário a sua própria natureza, um ser que viola as regras e normas que definiriam as formas naturais. Naturalizado, dessacralizado, ele se torna uma anomalia, um ser que transgride sua própria natureza, sendo visto como qualquer coisa de horrenda, de pavorosa, de feia, de bizarra. O monstruoso remete ao teratológico, ou seja, ao que não obedece a lógica em sua constituição, fora de lógica, o aberrante, o que escapa aos códigos e princípios que definem o que seria a forma normal.
Se o monstruoso é o contrário daquilo ou daquele que possui uma boa forma, talvez possamos partir daí para entendermos o porquê dos monstros estarem de volta, em nossos dias. Desde o século XVI, surgem os primeiros escritos, no Ocidente, que se preocupam com as formas e as formalidades na vida social. Os chamados tratados de civilidade, surgem tanto na Itália, como na França, buscando educar os homens das Cortes, buscando educar os príncipes e nobres para o exercício de suas funções e para a manutenção do poder que vieram a conquistar. Estava-se deixando para trás o que seria a rude sociedade medieval, ainda caracterizada em seu declínio, nos séculos XIV e XV pela predominância da passionalidade, pela predominância da rusticidade, pela expressão exagerada dos sentimentos. Com a centralização do poder, com o surgimento dos Estados absolutistas tratava-se de reprimir a violência privada, tornando-a monopólio do Estado. A Igreja e os novos monarcas investem na curialização dos cavaleiros, ou seja, na subordinação da anárquica vida do nobre guerreiro aos ditames de uma vida regulada e regrada por formas de comportamento cada vez mais ritualizadas. Nas Cortes, os homens e mulheres vão aprender a conter as suas paixões, a construir rostos e gestos adequados a cada situação de sociabilidade e de conflito. As máscaras, que se tornam ornamento onipresente nos rituais da Corte, indiciam a importância que as formalidades, que os rituais, que as formas estilizadas vão ter nessa sociedade. O processo civilizatório, como vai defender o sociólogo alemão Norbert Elias, implica essa repressão dos instintos, esse controle das paixões, essa ritualização da vida social, essa construção de uma certa zona de separação entre cada pessoa, uma certa distância protetora entre cada indivíduo.
A emergência do indivíduo moderno, da forma de ser individual, surge da crescente repressão aos comportamento de rebanho, aos comportamentos corporativos. A vida civilizada exigiria uma educação para a serenidade, a impassibilidade, a contenção, a urbanidade e a civilidade, nascidas de uma boa dose de hipocrisia, de um calculo racional da ação, do cálculo do efeito que sua ação exercerá sobre o outro. Esse processo civilizatório exige, também, um maior controle sobre si mesmo, uma maior vigilância a respeito de seus próprios atos e de suas falas. A figura do autor surge para responsabilizar cada um pelo que diz. Da fala anônima e costumeira passa-se a fala individual, autoral, que pode ser atribuída a um sujeito de direito, acarretando a sua punição em caso de transgressão ou ofensa no que diz. A sociedade aristocrática enfatiza e valoriza o refinamento das formas de vida. A pompa, o ornamento, as vestimentas, os gestos, a forma de se expressar, de caminhar, de comer, de conversar diferenciava um nobre de um homem comum, de um plebeu ou de um burguês. Era fundamental nas sociedade aristocráticas as noções de distinção, de preferência, de precedência, de ordem, que deviam marcar cada momento e cada prática do homem pertencente a nobreza. O ser humano passa a ter como definição o ser que se faz por si mesmo, que se distingue construindo um mundo próprio, o humano se define por sua capacidade de artificio, de ser artificial, artífice de si mesmo e de seu mundo. O homem natural não seria propriamente humano, daí o desprezo devotado aqueles próximos da natureza, como os camponeses.
A sociedade burguesa, essa sociedade em que ainda vivemos, se estruturou como uma reação a essa sociedade aristocrática e de Corte. Já com os filósofos iluministas, do final do século XVIII, ideólogos da nova sociedade que se instala, a crítica à artificialidade da vida da nobreza é a tônica dos discursos. O que antes era visto como inaceitável passa a ser idealizado. Se o homem aristocrático não podia ser estritamente conforme a natureza, ele passa a ser visto como uma espécie de monstruosidade. Drácula, o conde decadente, um morto vivo, vivendo de sugar o sangue dos camponeses, é uma dura imagem que a sociedade burguesa criou para sintetizar o que seria um aristocrata, um nobre. Com seu rosto pálido, com sua máscara de morte, Drácula denuncia o que seria o ser que não obedece as leis da natureza, que não é conforme com ela, um ser do artifício e da artimanha, o ser da nobreza. A burguesia advoga no lugar da artificialidade da vida, sua naturalidade e autenticidade. No mundo burguês somos convocados a ser autênticos, a termos uma identidade capaz de expressar a nossa verdade mais interior, o nosso ser mesmo enquanto humano. Enquanto na sociedade de Corte, tão bem descrita em sua decadência pelo escritor francês Marcel Proust, se desenvolveram sofisticados códigos corporais, de gestos, de signos, de sinais, que visavam tornar a sociedade marcada pela polidez, ou seja, uma sociedade onde cada gesto humano, cada reação humana teria sido objeto de um trabalho de polimento, de aperfeiçoamento, de formatação, de ritualização por uma educação cotidiana e constante, a burguesia, como vai fazer o filósofo francês Jean-Jacques Rosseau, vai apostar na naturalidade, quando não, romanticamente, na volta a um estágio natural do Homem, onde pretensamente ele ainda não teria sido corrompido pela civilização. Se o homem natural era para a nobreza a besta, a fera que de dentro de nós ameaçava a vida em sociedade, a sociedade burguesa aposta na possibilidade da sinceridade, da verdade, da autenticidade de cada um, considerando excessivos os códigos e rituais aristocráticos. Embora, em alguns países, como na Inglaterra, a burguesia tenha se deixado aristocratizar, em países como a Alemanha, a burguesia mostrou-se hostil à cultura de Corte, por ter matriz francesa. Nobert Elias, escrevendo em plena barbárie nazista, vai ver nessa prevalência de uma burguesia rude e pouco polida, pouco civilizada, a tragédia alemã. Em busca da naturalidade, a burguesia solta as feras que existem em nós.
O que dizer da burguesia brasileira, das nossas elites ? Embora tenhamos sido a única monarquia das Américas e tenhamos elites com pretensões aristocráticas, o refinamento e a polidez nunca foram propriamente a marca de nossas classes dirigentes. A presença da escravidão, essa escola de prepotência, crueldade, perversidade, desumanidade, marcou indelevelmente a constituição das consciências e sensibilidades das elites brasileiras. Como muitos analistas da sociedade brasileira já chamaram atenção, desde um Machado de Assis, até um Gilberto Freyre, a escravidão impediu que a vida aristocrática à brasileira tivessem as mesmas formas da vida das Cortes europeias. Embora a Corte transplantada de Portugal tenha tentado preservar os rituais da vida real e da vida cortesã, a vida nos trópicos e, notadamente, a presença das relações escravistas, provocou desvios e promoveu singularidades consideráveis na maneira de ser nobre no Brasil. A burguesia brasileira esteve ligada, desde o início, à atividades escravistas. O tráfico negreiro, com todo o seu cortejo de desumanidades, esteve na origem de muitas fortuns no país. O pouco apreço pela vida do diferente, do preto, do pobre, do indígena, foi aprendido nessa escola de arrogância e de prepotência que foi a casa-grande e o sobrado colonial e imperial.
Desde a infância nossas elites aprenderam formas de dominação que se assentam no desprezo completo pelo outro, pela visão meramente instrumentalizante do outro, o outro como uma coisa, uma propriedade, um objeto, uma mercadoria, da qual se pode dispor ao bel prazer. Desde a infância aprenderam, muitas vezes em sua própria carne, o exercício da violência direta como marca de classe, como marca de ascendência e distinção. Poder chicotear o outro, bater em seu rosto, marcar o seu corpo, seviciá-los sexualmente, matá-los foram as lições básicas servidas pela pedagogia escravista que se estendeu séculos afora, no espancamento das crianças visto como gesto de educação, na procura da menina pobre e imberbe para deflorar, no se achar no direito de surrar seu empregado e trabalhador, no se achar no direito de matar todo aquele que achar menor, diferente, inferior, débil, todo aquele que conteste suas vontades e interesses. Machado de Assis, em muitos de seus personagens das elites brancas, notadamente entre os homens, vai denunciar essa incapacidade do homem das elites brasileiras de enxergar o outro, sua incapacidade de solidariedade e compaixão, sentimentos que, já no século XVIII, foram definidos como básicos para o estabelecimento de uma verdadeira república.
Os inúmeros golpes de força e prepotência que marcam a história da república brasileira nascem dessa incapacidade de nossas elites de enxergarem para além de seu próprio umbigo. Já no século XIX, um Montesquieu dizia que era aceitável que os homens primeiro quisessem atender a seus desejos e interesses, mas alertava que sem compaixão, sem a capacidade de sair de si e ir em direção ao outro, a vida social e política se esgarçava, e o que se teria era uma sociedade marcada, cada vez mais, pela violência, pelo conflito, pela insegurança. Mesmo Adam Smith, um dos teóricos do liberalismo e da centralidade do interesse individual na vida pública, alertava para a necessária existência em paralelo, nos próprios indivíduos, da atenção para o sofrimento e a dor do outro, sem o qual recairíamos na tirania. Os socialistas, não acreditando nessa capacidade dos indivíduos por si mesmos abrirem mão de seu egoísmo, vão defender que o Estado e as leis devem pressionar e sancionar no sentido de que saiamos de nosso egoísmo e levemos em conta o outro. A fraternidade, uma das máximas da Revolução Francesa, pressupõe esse se preocupar com o outro na mesma medida e intensidade que se preocupe consigo mesmo. Abatido o monstro que era o tirano, o que colocava todos os seus desejos acima dos demais, cabia agora construir uma sociedade de irmãos, em que cada um se vê no outro e, por isso, não quer para o outro o que não se quer para si mesmo, ou seja, a empatia com o outro seria um principio fundamental para a vida em sociedade.
Creio que os acontecimentos das últimas semanas, no Brasil e no mundo, diz muito do porquê os monstros voltaram como imagem que simboliza o nosso tempo. A pretexto de criar um mundo autêntico, um mundo onde cada um pudesse ser idêntico a si mesmo, um mundo sem máscaras, um mundo sem fabricação de formas e rituais de convívio, a sociedade liberal e, com maior ênfase, a sociedade neoliberal abriu as portas para a manifestação em público e sem máscaras do nossos desejos e impulsos os mais agressivos. Os monstros que habitam nosso interior, sem o trabalho da polidez, da civilidade, sem o esmero da forma pela educação, se apossam de nossos corpos e mentes e relincham bestialmente nas redes sociais. Centenas de energúmenos comemoram o assassinato da vereadora carioca Marielle Franco, por ela ser diferente, por ela ser lésbica, por ela ser defensora de “bandidos”. A falta de empatia com outro ser humano é total. Uma desembargadora sem apresentar nenhuma evidência ou prova escreve em rede social que ela havia sido eleita pelo Comando Vermelho e teria sido assassinada pela facção rival de Acari. Nessas falas nenhum distanciamento civilizado e racionalizado em torno da dor e do sofrimento do outro, nenhuma solidariedade com o outro que se foi e com aqueles que ficaram. A polidez deu lugar a essa sociedade em que o privado assaltou e tomou conta do público, uma sociedade que se tornou pornográfica. Nenhum pudor em se despir e em mostrar as partes mais intimas em rede nacional ou nas redes sociais. A vida privada é exposta constantemente, sabemos o prato que cada um está comendo naquele instante, onde e com quem cada um está, com quem está fazendo sexo, quando não se disponibiliza o próprio corpo sendo penetrado por alguém.
Assim como Frankenstein (o monstro que só queria ser amado), todos aqueles que são vistos como diferentes podem sofrer as maiores violências simbólicas ou físicas. Monstros acusando os outros de serem monstruosos pelo simples fato de não corresponderem às formas ditas normais ou canônicas. Crimes monstruosos são perpetrados contra homossexuais, travestis, transexuais, a pretexto de eles serem os monstros. Temos um governo monstruoso, que chegou ao poder denunciando o que seria a monstruosidade do petismo, do comunismo, do bolivarianismo, para hoje termos uma horda de vampiros a sugar o sangue da nação e dos trabalhadores brasileiros. A votação do impeachment foi uma sessão de teratologia política, em que aberrações como dedicar o voto favorável ao impeachment a um torturador foi totalmente normal. O candidato que ocupa o segundo lugar nas pesquisas para presidente tem modos e comportamentos que dificilmente seriam considerados humanos numa sociedade da civilidade e da polidez. Ele estaria mais próximo do troglodita do que de um homem que passou por um processo civilizatório. A grosseria, a rudeza, a falta de educação, a arrogância, o vitupério, o xingamento, a calúnia, a prepotência, a incivilidade, são atributos que ele e seus asseclas distribuem à farta em todo lugar aonde vão. A discrição, a impavidez, a sobriedade, a altivez, a elegância, que desde o século XVI passou a definir o que seria um homem nobre de espírito, parecem andar escassas por essas plagas, e em todo o mundo, as performances cruzadas de Vladimir Putin e de Donald Trump, não me deixam mentir.
Vivemos tempos em que a busca da perfeição corporal convive com verdadeiros aleijões subjetivos. Marielle Franco morreu porque denunciava a monstruosidade de uma sociedade que enjeita ao nascer seus filhos, os transforma em monstros e depois os elimina. Ela denunciava a monstruosidade de forças de ordem e segurança que militam na desordem e na insegurança, forças da morte travestidas de forças em defesa da vida. Defensores de uma ordem social injusta e monstruosa, que condena milhões à miséria e produz uma minoria monstruosamente rica e egoísta, incapaz de ver e pensar no outro, só no ouro, como podem não se tornar monstrengos subjetivos? Como defender sob a força das armas a injustiça e a desordem de um sistema promotor da infelicidade e precariedade de milhões e não se tornar monstruosos? Marielle reunia tudo o que essa sociedade e suas elites desprezam e odeiam. Como Frankenstein ela reunia o ser mulher, o ser negra, o ser homossexual, o ser de esquerda, o ser política, o ser de origem humilde, o ser corajosa e altiva na denúncia das monstruosidades cometidas por forças de segurança que só distribuem a insegurança, agindo à base do preconceito e da discriminação. Ela era monstruosa, logo tinha que ser abatida como se abate um animal daninho. E depois de matá-la fisicamente, trata-se de completar o serviço matando-a simbolicamente. Como pode um país se indignar com o crime contra uma pessoa como essa, que devia morrer mesmo? Como é que o mundo se importa com um monstro como esse, tem por ele amor, piedade e solidariedade, como as duas mulheres da limpeza em relação ao monstro supliciado no laboratório, elas também marcadas pelo estigma de classe, mas também de raça (uma delas era negra) e aquele destinado à pessoas com deficiência (uma delas era muda)? Como diz a monstruosa operadora do direito (Deus nos livre desse Direito), isso é coisa da esquerda que quer transforma-la em mártir, ou seja, leia-se nas entrelinhas a afirmação monstruosa: ela deveria mesmo morrer, não é nenhuma surpresa e não se perde nada. Fala de uma mulher (ou de um monstro) sobre outra mulher. Estarrecedor! Os monstros estão soltos nas ruas e eles estão longe de serem apenas pretos, pobres, favelados, vagabundos, homossexuais, lésbicas, transsexuais, eles estão nas coberturas e recebem auxilio-moradia, moram em condomínios fechados e vivem com segurança privada. Aliás, alguns habitam até os tribunais superiores e os palácios de Brasília.
(Publicado originalmente no site Saiba Mais, Agência de Reportagem, aqui reproduzido com autorização do autor)






 A vereadora Marielle Franco em encontro do PSOL (Foto: Mídia NINJA)
A vereadora Marielle Franco em encontro do PSOL (Foto: Mídia NINJA)